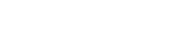Nas últimas décadas do século XVI, as administrações da cidade real do Rio de Janeiro distribuíram inúmeras sesmarias, atribuindo àquele que recebesse as terras o direito de edificar onde escolhesse, sem nenhum ônus.
Essas autorizações, além de viabilizarem o acesso à terra, a inúmeros colonos e a ordens religiosas (como a dos jesuítas, dos beneditinos, dos carmelitas e dos franciscanos), contribuiriam para um consequente aumento da população. Após os inúmeros desmatamentos de várzeas, brejos e manguezais (para ocupar o espaço com a cultura da cana-de-açúcar), durante quase todo o século XVII, o Rio de Janeiro teve características agrícolas. Aos poucos, rompeu os limites do morro onde Mem de Sá (1500-1572) a localizou e desceu para a várzea, espalhando-se pelos vales apertados entre os montes. A cidade se derramou pela planície encharcada, arduamente conquistada por aterros e áreas aterradas.
No decorrer do século XVII, a pesca das baleias que frequentavam a Baía de Guanabara entre os meses de junho e agosto transformou-se em atividade econômica. O religioso francês Jean de Léry (1526-1613) definiu esses mamíferos como “horríveis e espantosas baleias, as quais, mostrando-nos diariamente as grandes barbatanas fora da água e folgando neste vasto e profundo rio, aproximam-se tanto que as podíamos alcançar com tiros de arcabuz”. A região da capitania do Rio de Janeiro, pelos idos de 1640, tornou-se um centro de pesca desse cetáceo.
Nos primeiros anos do século XVII, a cidade foi integrada ao sistema atlântico. Sua população, além dos europeus e dos índios, incluía africanos escravizados, que chegavam para o trabalho nos canaviais e engenhos. Era uma mão de obra robusta, utilizada “no pastoreio, na fabricação de tijolos e na edificação de moradias e de fortes, como também na implantação de benfeitorias urbanas”, como registrou a professora Fania Fridman. Surgiram ruas “abertas com critério, com medição, com cordeamento, com lavragem de documentos cartoriais”, segundo o professor Maurício de Almeida Abreu. Essas ruas poderiam conduzir quem por elas passasse, a pé, levado por cavalos, burros ou em carros de bois, para as primeiras capelas que posteriormente dariam lugar às igrejas e conventos, que expressavam o espírito religioso daqueles tempos.
Outros caminhos seguiam rumo ao Paço ou ao Mercado de Peixe, situado à beira do cais. Deles, despontaram as principais ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro. O crescimento demográfico e o desenvolvimeto das atividades comerciais integraram regiões mais distantes – onde hoje é o Campo de Santana.
Além das áreas centrais, outros trajetos conectavam áreas agrícolas, como o que seguia em direção à Praia Vermelha (onde existiam chácaras produtoras de frutas e de alguns cereais) ou o da região da Lagoa Rodrigo de Freitas (com engenhos de açúcar). Em espaços mais afastados, na localidade de Santa Cruz, os padres da Companhia de Jesus impulsionavam o crescimento da região, estabelecendo pequenas oficinas e olarias.
A cidade crescia e a pobreza e a riqueza conviviam lado a lado nas ruas do Rio setecentista. Enquanto os metais e as pedras preciosas vindas da região das Minas Gerais (assim conhecida por reunir diferentes jazidas em áreas diversas que, hoje, correspondem aproximadamente aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso) ornavam os altares das igrejas, nos locais de desembarque de cativos (Largo do Paço) ou em volta dos chafarizes a situação era bem outra. Nesses pontos, reuniam-se dezenas de escravos responsáveis pela execução de duras e extenuantes tarefas, como a lavagem de roupas e o transporte de água para o consumo humano. Eram responsáveis, também, em uma época em que não existia sistema de saneamento urbano, pela tarefa de carregar tonéis com o esgoto das moradias para descarregá-los no atual Campo de Santana (região desabitada e afastada do centro).
Pelos idos de 1650, a parte velha da cidade, localizada no alto do Morro do Castelo, estava quase despovoada. Segundo a professora e historiadora Maria Fernanda Bicalho, “apenas fortalezas, igrejas, conventos e mosteiros permaneceram no alto dos outeiros, de onde podiam, sobranceiros, vigiar qualquer manifestação dos inimigos do rei e da fé”.