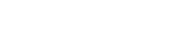O livro de João Pacheco de Oliveira, professor titular do Museu Nacional/UFRJ, é composto por ensaios independentes e diversos entre si. Disponível em PDF, traz novos dados que corroboram uma narrativa mais atualizada sobre a História do Brasil. Veja, a seguir, alguns trechos escolhidos pelo Portal MultiRio.
O livro de João Pacheco de Oliveira, professor titular do Museu Nacional/UFRJ, é composto por ensaios independentes e diversos entre si. Disponível em PDF, traz novos dados que corroboram uma narrativa mais atualizada sobre a História do Brasil. Veja, a seguir, alguns trechos escolhidos pelo Portal MultiRio.
Segundo Pacheco de Oliveira, “há um lugar e um momento claramente atribuídos ao indígena na narrativa convencional: eles são anteriores ao Brasil”. Tal construção, como diz, é uma produção do século XIX, do evolucionismo e, sobretudo, do Segundo Império.
Duas colônias portuguesas no Brasil
O pesquisador enfatiza que houve duas colônias portuguesas nas Américas por quase 300 anos: a do Brasil, que ia do litoral do atual Ceará ao Rio Grande do Sul, e a do Amazonas e Grão-Pará, que incluía o Maranhão e o vale amazônico. “A administração portuguesa não tratou essas duas regiões de maneira homogeneizadora, mas as instituiu em distintas colônias ultramarinas, que tiveram ritmos e configurações históricas diferenciadas. Na colônia do Brasil, cuja sede permaneceu em Salvador, na Bahia, por mais de dois séculos, os sítios ocupados pelos europeus iniciavam-se como fortificações e praças-fortes, que abrigavam enclaves comerciais e ampliavam-se para os sertões com a implantação de engenhos e plantações. Mais além dessas áreas protegidas, ficavam as fazendas para a criação extensiva de gado. Olinda, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, entre outras, foram cidades que seguiram essa estratégia política e arquitetônica (...). Os indígenas, mobilizados ainda pacificamente, concorreram decisivamente para a construção dessas cidades, na edificação de igrejas, fortes e em outras obras públicas.”
Enquanto no litoral os europeus, recém-saídos das caravelas, abrigavam-se em montes e baías logo fortificadas, conseguindo realizar atos de força e poder, o encontro com os indígenas que moravam à beira do Rio Amazonas foi diferente. Houve uma sequência de combates e fugas por parte dos europeus frente a populações que lhes eram superiores em termos numéricos, logísticos e militares. Essa narrativa foi feita por Diego de Carvajal e Gaspar de Acuna, que desceram o Rio Amazonas de barco em 1542 e 1639, respectivamente.
Posteriormente, a exploração da Amazônia se deu, sobretudo, pelas vias fluviais e por expedições pontuais, privilegiando a atividade extrativista e tendo um caráter temporário, materializada nas jornadas para a coleta das “drogas do sertão”, a pesca do peixe-boi e a captura da tartaruga. Em sua quase totalidade, essa produção estava voltada para a exportação, não supondo necessariamente o estabelecimento no interior de praças-fortes e núcleos urbanos. A ocupação do interior ocorria apenas pela implantação de aldeamentos missionários, unidades produtoras dependentes; portanto, pelo trabalho de indígenas e da aceitação por estes da conversão e da atuação dos agentes religiosos externos.
O indígena, à diferença do negro, não devia legalmente ser objeto de escravidão, mas poderia sofrer um “descimento”, sendo deslocado coletivamente de seu lugar de origem para outro de maneira a ali ser aldeado, receber assistência religiosa e vir a trabalhar em atividades de interesse dos colonos ou da administração. Tais aldeias eram as fornecedoras de mão de obra tanto para as fazendas do litoral quanto para as expedições extrativistas que percorriam o interior da Amazônia em busca das “drogas do sertão”. Lá também se cooptava os indígenas que, por longos períodos, eram mandados para a construção de obras públicas (como fortificações, caminhos e igrejas), realizando tarefas especialmente pesadas, ou servindo em atividades militares (guerras e revoltas).
Litoral
Nas primeiras décadas do século XVI, as áreas costeiras da América do Sul eram intensamente disputadas, sobretudo por portugueses e franceses. Obter a simpatia e a colaboração dos nativos foi a principal preocupação de ambos os lados. O conflito entre os europeus se apropriou e se sobrepôs aos conflitos entre os próprios tupis, existindo uma rede de interdependências dos colonizadores com os indígenas que resultava de articulações mais amplas entre os poderes coloniais. Uma delas eram as relações de parentesco criadas pelos “lançados” com os nativos. “Lançados” eram degredados, náufragos, desertores, portugueses e franceses, que viviam com os indígenas para que servissem de mediadores linguísticos e culturais, casando-se e tendo filhos nas aldeias.
O próprio rei de Portugal, D. João III reconhecia explicitamente que o concurso dos indígenas era essencial. Em dezembro de 1548, enviou uma carta a Diogo Álvares, náufrago que vivia entre eles e a quem chamavam de Caramuru. O rei solicitava a Caramuru que intermediasse a relação com os indígenas e apoiasse a implantação do núcleo dirigente por Tomé de Souza, governador-geral, que chegaria na região (onde hoje é Salvador) no ano seguinte. Posteriormente, devido aos bons serviços prestados, Tomé de Souza nomeou como cavaleiros três filhos e um genro de Diogo Álvares, por relevantes serviços prestados à Coroa.
No século XVII, os indígenas deixaram de ser a mão de obra básica e passaram a integrar um mercado de trabalho paralelo aos engenhos de açúcar, mas igualmente essencial ao funcionamento da economia e da sociedade. Eles trabalhavam em múltiplas funções, de produção de alimentos a tarefas domésticas. Eram também utilizados em obras públicas e com objetivos militares, nas guerras coloniais e em milícias privadas.
Amazônia
O fator econômico fundamental para a ocupação da Amazônia, tanto para as expedições extrativistas quanto para o estabelecimento de aldeamentos missionários, foi o trabalho indígena, chamado pelo padre Antônio Vieira de “ouro vermelho”, sobre o qual foi erigida toda a riqueza da região. É na procura e no controle desse fator essencial de produção, para o qual não foi criada qualquer outra alternativa exitosa até a década de 1870, que colonos, religiosos e autoridades mantiveram acirradas disputas e também chegaram a uma composição entre seus interesses.
Contra alguns povos, como os tupinambás, do Maranhão, os índios do Rio Negro, os muras e os mundurucus, foram dirigidas verdadeiras guerras de extermínio. Fontes coloniais estimam que, em apenas cinco anos, de 1621 a 1626, um capitão-mor do Pará tenha aniquilado ou conduzido ao cativeiro cerca de 500 mil indígenas. O movimento liderado por Ajuricaba, que durou de 1723 a 1727, foi uma das poucas revoltas indígenas que a história registrou e que terminou com uma violenta repressão aos manaós. Ao cabo de uma longa e cruenta campanha militar, em 1775 as aldeias dos muras foram tomadas ou destruídas e a população restante considerada pacificada.
Resistência indígena
O avanço da colonização não se fez sem conflitos e resistência por parte dos indígenas. A primeira mobilização ocorreu em 1554 e durou quase dois anos. Foi vencida por uma expedição punitiva, composta por 70 homens e 6 cavaleiros, comandados pelo filho do segundo governador-geral Duarte da Costa. Encontraram no caminho algumas armadilhas, mas nenhuma resistência ativa; capturaram o cacique e incendiaram duas aldeias vizinhas, que lhe teriam dado apoio.
Pouco tempo depois, surgiram notícias de que seis aldeias tupinambás teriam se reunido e feito um cerco a um engenho de um dos mais destacados colonos. A expedição punitiva partiu desta vez com cerca de 200 e, aproximadamente, 1.000 tupinambás foram vencidos e tiveram suas aldeias queimadas.
Numa terceira fase, no ano seguinte, em decorrência da persistência de focos de conflito, o governador ordenou que fossem destruídas todas as aldeias em que houvesse cercas – entendidas como preparativos bélicos voltados contra os portugueses. Os tupinambás se submeteram, jurando lealdade ao rei e comprometendo-se com o pagamento de tributos.
Em 1558, reações negativas quanto às normas mais rígidas de catequese juntaram-se à insatisfação dos tupinambás pela progressiva perda de seus territórios. Mem de Sá, terceiro governador-geral, no comando de 300 portugueses e 4 mil indígenas, deu início à chamada Guerra do Paraguaçu, destruindo entre 130 e 160 aldeias tupinambás na região do recôncavo. Dessa vez, a submissão incluía a plena aceitação dos novos princípios de catequese.
A Coroa Portuguesa proibia a escravização de indígenas, mas a legislação era burlada quando se obtinha uma declaração de “guerra justa” contra alguma “horda selvagem”. Os pré-requisitos para isso eram muito amplos, abrangendo desde atos lesivos contra os colonos (incluindo mortes, roubos e furtos) até a simples recusa em receber educação religiosa. Indígenas podiam, então, ser capturados e, como forma de castigo e reeducação, submetidos a uma escravidão temporária, em geral não inferior a 15 anos.
Em 1562, em pretensa represália à morte de náufragos europeus, seis anos antes, Mem de Sá declarou “guerra justa” contra os caetés, que ocupavam o litoral do norte da Bahia até Pernambuco. As tropas de resgate, por sua vez, percorriam os sertões para, supostamente, libertar indígenas cativos que seriam vítimas de antropofagia, mas, na realidade, instituíam uma espécie de mercado desses povos escravizados, fosse por captura ou compra.
Já em 1808, o próprio príncipe regente D. João, já no Brasil, assinou uma declaração de guerra aos botocudos do norte de Minas e do Espírito Santo, que, nos anos seguintes abrangeu também os índios de Guarapuava (Paraná) e os coroados (do norte do Rio de Janeiro).
O documento que ofereceu os delineamentos básicos para a política indigenista a ser adotada no pós-independência foi o famoso texto Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Império do Brasil, escrito por José Bonifácio de Andrade e Silva. Uma versão preliminar havia sido apresentada às Cortes Portuguesas, juntamente com cinco outros projetos similares de deputados brasileiros – o que atesta o interesse que o assunto merecia.
Constituição de 1988
A Constituição promulgada em 1988 trouxe modificações no quadro legal relativo aos indígenas. A perspectiva assimilacionista, com a concepção correlata dos indígenas como vivendo unicamente uma condição transitória, foi abolida. Eles tiveram reconhecidos, pela primeira vez, o direito às suas formas próprias de organização, assim como a plena capacidade jurídica, podendo ser representados por suas autoridades tradicionais ou por associações livremente constituídas.
Nos anos seguintes, mais de duas centenas de organizações indígenas foram criadas na chamada Amazônia Legal, passando a se pautar pela administração de projetos de etnodesenvolvimento e de assistência diferenciada. Os recursos da cooperação internacional, sobretudo aqueles voltados para fomento à proteção ambiental, foram em boa parte direcionados às ações locais por meio das organizações indígenas. Os territórios habitados por esses povos passaram a ser vistos igualmente como unidades de conservação.
A ação governamental relativa aos indígenas deixou de estar centralizada em uma única agência, a Fundação Nacional do Índio – Funai, subordinada a um único ministério, o da Justiça, para ser distribuída também em diferentes ministérios, como o da Educação, da Saúde e do Meio Ambiente.
Século XXI
Hoje, os indígenas da Amazônia têm seus interesses defendidos não pela agência indigenista, mas por organizações que os representam em diferentes níveis, desde o local e o étnico até o regional e o nacional, como a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), o Conselho Indígena de Roraima (CIR), o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o Conselho Geral da Tribo Tikuna (CGTT), o Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé (CGTSM), a União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas (Uni-Acre), o Conselho Indígena do Vale do Javari (Civaja), entre muitas outras.
As organizações indígenas articulam-se em rede e sua coordenação-geral é executada pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), sediada em Manaus, com representações próprias em conselhos diretores de muitas agências governamentais.
Segundo o Censo 2010 do IBGE, a população indígena é de 896 mil pessoas, entre 305 etnias, que falam 274 idiomas. Esse número se deve, em parte, à existência de processos de reclassificação identitária por alguns segmentos da população brasileira, que permitiram a autoclassificação como indígenas de comunidades, famílias e indivíduos antes recenseados como “pardos”. São indígenas todos aqueles que integram coletividades que se reivindicam como sendo de descendência pré-colombiana. A convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) explicita que o fator decisivo para uma afirmação identitária não pode ser outro que não a via das autodefinições. Essa convenção foi acolhida com força de lei no Brasil, sendo ratificada pelo Senado e pela Presidência da República. Ainda segundo o Censo, metade da população indígena atualmente tem também alguma forma de residência (em tempo parcial, provisória ou definitiva) em núcleos urbanos.